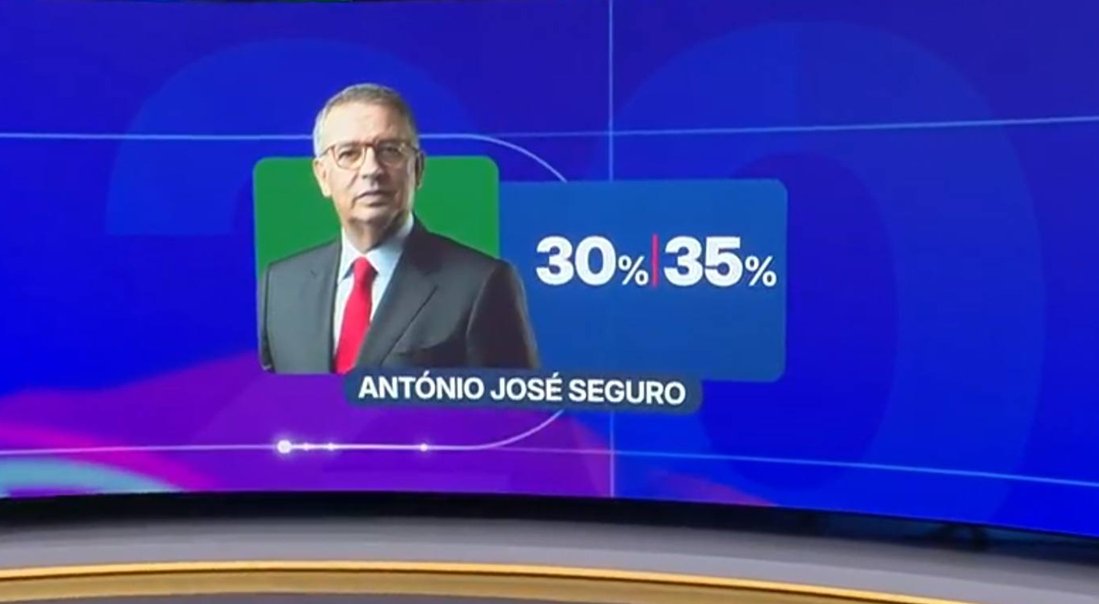Diana Gonçalves (Tui, 1987) sempre viveu uma vida verdadeiramente transfronteiriça. Filha de mãe galega e de pai português, é natural de Valença, onde foi concebida, apesar de ter nascido do outro lado da raia. Da menina que ouvia as histórias da avó sobre mulheres que atravessavam, carregadas, as margens do rio Minho até à cineasta reconhecida não levou muito tempo, já que aos 22 anos estreou o filme que mudou a sua vida. «Mulleres da Raia» conta em 42 minutos as histórias de 14 mulheres que asseguravam o sustento das famílias através do contrabando de pequena escala, desde os anos 30 até à década de 1980. A memória destas trapicheiras, como são conhecidas na gíria galaico-portuguesa, está em vias de ser recuperada pelo Município de Valença e, como tal, o EL TRAPEZIO foi conhecer a realizadora para saber como o seu trabalho pode contribuir para esta preservação.
Como surgiu a ideia para o «Mulleres da Raia»?
No momento em que estava a pensar sobre a palavra “caminho”, veio-me à memória a imagem de uma mulher a atravessar a ponte de Tui-Valença. Isto porque a minha avó galega contava-me muitas histórias como esta e, de repente, essa memória transformou-se em imagem. Então comecei a trabalhar a ideia e fiz uma curta-metragem de 4 minutos sobre uma mulher a fazer essa viagem, mas de comboio. Esse trabalho ganhou um prémio num concurso [Play-doc Tui] e surpreendeu-me pela reação do público e pelas emoções que despertou. Foi aí que percebi que era a semente de um filme que eu tinha de fazer, que tinha uma história por contar e que era necessário construir essa “ponte”.
Qual foi a importância da sua herança galaico-portuguesa para contar esta história?
Essa herança foi fundamental, sobretudo pela questão da língua. Eu sempre digo que a maior herança que me deixaram os meus avós e pais são as línguas: o português, o espanhol e o galego. Isto permite-me entender o mundo de formas diferentes e uma maior aproximação às pessoas. E neste trabalho, que supunha chegar muito perto destas mulheres, foi importante falar a mesma língua para tecer essa relação de confiança. Não é uma questão banal: é preciso dizer as palavras certas e não ser uma estranha, apesar de não ter vivido no tempo da história.
Por que é importante falar ainda hoje das trapicheiras?
Em primeiro lugar, acho que é preciso conhecermo-nos. Para entendermos a atualidade, é preciso sabermos o que aconteceu, e estas mulheres não faziam parte da História oficial. Sabia-se o que elas faziam, mas isso não passava pela transmissão oral, já que as histórias de contrabando que se ouviam eram quase sempre protagonizadas por homens e elas também não davam importância a essa luta diária. É importante salientar que elas eram o elo mais fraco desta cadeia comercial que acontecia na fronteira, mesmo até com casos excecionais de mulheres que geriam as redes de contrabando. Por isso o que fiz foi preencher este vazio que existia e ajudar a aceitar esta realidade, que ainda hoje existe noutras “fronteiras”, como a de Marrocos-Espanha ou a do Panamá-Costa Rica. De certa forma, as fronteiras repetem-se, assim como a História.
Como olha para a intenção da Câmara de Valença de preservar a memória destas mulheres, nomeadamente através do seu documentário?
Acho que é positivo que haja, pelo menos, esta intenção. O filme, que foi a minha primeira produção profissional, continua a ser solicitado para comemorações e conferências, porque há sempre alguém que se lembra de projetá-lo. Agora o que me preocupa é o material que não foi editado. Apesar do filme ter 42 minutos, eu filmei mais de 40 horas, porque na altura tinha a consciência de que a história poderia desaparecer a qualquer momento. As mulheres com quem falei já tinham muita idade e era urgente filmar tudo o que pudesse. E esse material, que é um arquivo sobre a fronteira, não está preservado: está em minha casa, a degradar-se, guardado em cassetes e sem as condições ideais de conservação. Não tendo também qualquer cópia nem estando o material digitalizado, pode perder-se. Sobre isso, terei a oportunidade de falar com o executivo numa reunião próxima e espero que este momento seja uma janela de oportunidade que se abra para salvaguardar essas memórias – também de outras mulheres que não aparecem no filme – e partilhá-las com quem esteja interessado em descobri-las.
É certo que o seu trabalho, ao trazer uma questão transfronteiriça sob uma perspetiva igualitária, ajuda a aproximar os povos ibéricos na sua forma de ver o outro. Como pensa este iberismo na sua vida?
Sinto-me ibérica. Essa é a minha raiz. E também sou portuguesa, galega, espanhola, raiana. Nesse sentido, é o iberismo que me permite conjugar todas essas expressões e identidades. É uma ideia orientadora que sempre está presente nos meus projetos criativos e profissionais e também reforça a minha forma de estar. As fronteiras administrativas não deveriam ser uma limitação para as comunidades que tem uma vivência tão próxima e com tantas afinidades. De facto, as comunidades fronteiriças sempre conseguiram transformar as barreiras em oportunidades. E acho que na atualidade o iberismo pode juntar vontades. Pode ser o motor para superar as diferenças, sem as negar, mas pelo contrário torná-las em oportunidades para reafirmarmo-nos como o espaço comum e diverso que somos. Mas para isso é preciso aproximarmo-nos mais, conhecermo-nos melhor, construirmos espaços para a partilha e o diálogo e desprendermo-nos dos receios. Acredito no potencial da Península Ibérica, mas são necessários mais pontos de encontro para pôr em comum e construir juntos. Acredito nessa possibilidade como realizadora, consultora, académica e, como cidadã, tento contribuir para isso.